Crítica: Até O Último Homem

Direção: Mel Gibson
Elenco: Andrew Garfield, Vince Vaughn, Teresa Palmer , Sam Worthington, Luke Bracey, Rachel Griffiths, Ryan Corr, Matt Nable e Hugo Weaving
Depois de praticamente ser banido de Hollywood por comentários antissemitas e homofóbicos dez anos atrás, o diretor Mel Gibson retoma a direção neste Até O Último Homem, na tentativa de se aproximar do status conseguido anteriormente com Coração Valente e o polêmico A Paixão de Cristo – o que a indicação em seis categorias do Oscar nos faz pensar que foi bem sucedido. Todavia, este drama de guerra se torna numa espécie de niilismo às avessas, onde “toda a honra e glória devemos ao senhor”, numa obra dividida em três atos distintos que não se relacionam e acabam sendo prejudicados por excessos temáticos e aspectos visuais que comprometem suas qualidades e méritos humanistas.
Antes de mais nada, é bom dizer que é louvável o conflito de um homem dividido entre o dever, e sua moralidade de não violência dentro de um campo de batalha permeado de alegorias religiosas. Mas infelizmente assumindo um zelo religioso obsessivo além da conta, consequentemente um ponto de vista único, inconsequente e até ofensivo, o filme peca ao apresentar que a própria fé do protagonista seja a única verdade – onde “Deus com sua infinita sabedoria, renova as forças dos seus fiéis sobre os inimigos” (coitados dos japoneses).
Baseado em fatos reais Até o Último Homem se inicia quando o jovem e devoto Desmond (Garfield) decide se engajar na Segunda Guerra Mundial como paramédico, mas a sua recusa de pegar em armas e quebrar o 5° mandamento (não matarás), o torna num soldado em constante conflito, onde também é visto com desconfiança pelos seus colegas de batalhão. Andrew Garfield é suficientemente capaz de criar com sua empatia e carisma um personagem inocente e virginal de conflitos vindo de uma criação repressora e violenta. Mas infelizmente, mesmo com toda descrença, perdemos em vários momentos toda esta identificação pelo fato do roteiro inserir moralismo que beiram a um incrédulo paradoxo e até mesmo num certo sentimento de orgulho e egoísmo por parte do personagem – uma vez que sua ideologia pode causar a morte de alguém ou mesmo a recusa de alimentar com determinado alimento, por exemplo, devido a suas opções religiosas
É aceitável dentro de uma narrativa cinematográfica que o protagonista esteja no exército, e não deseja empunhar um fuzil, ok? mas esta mesma “lógica antibélica” é martelada na cabeça do espectador tornando-se enfadonha e até mesmo contraditória, como o fato de umas das motivações dele querer entrar no exército se dê pelos japoneses terem atacado Pearl Harbor. Ademais, o contexto é algo bem mais complexo e que o filme não consegue discutir de maneira mais ampla, o que acaba ocasionando uma sensação de superficialidade e parcialidade. Não que haja motivações para o comportamento de Desmond, mas o longa parece abordar também tantos traumas ou fatos que acaba por causar o efeito contrário e se tornando desnecessários. Como o fato de Desmond ao entrar num hospital de feridos , como num toque divino, ter seu dom para os necessitados despertasse como fosse atingido pelo espírito santo. Ou ainda a questão do acidente com irmão quando criança, a violência familiar, a própria influência religiosa…
 Como informado anteriormente, o roteiro de Robert Schenkkan e Andrew Knight, torna os três atos como algo quase distintos. Se no primeiro conhecemos as influências e opressões (religiosa e paterna), no segundo somos apresentado ao romance do rapaz com Dorothy (Palmer) e a inclusão do protagonista nas forças armadas e que se mostra no mínimo incomoda pelo que desejava representar. Assim, temos praticamente uma espécie de paródia de Nascido para Matar que ao contrário de temermos pelos soldados nas mãos de R. Lee Ermey, aqui o tom fica mais próximo da caricatura. Para se confirma, tal núcleo é composto pelo rival do alojamento, o Cowboy, o Garanhão (que adora ficar nu, não me pergunte por que) e o comandante interpretado por um Vince Vaughn completamente deslocado.
Como informado anteriormente, o roteiro de Robert Schenkkan e Andrew Knight, torna os três atos como algo quase distintos. Se no primeiro conhecemos as influências e opressões (religiosa e paterna), no segundo somos apresentado ao romance do rapaz com Dorothy (Palmer) e a inclusão do protagonista nas forças armadas e que se mostra no mínimo incomoda pelo que desejava representar. Assim, temos praticamente uma espécie de paródia de Nascido para Matar que ao contrário de temermos pelos soldados nas mãos de R. Lee Ermey, aqui o tom fica mais próximo da caricatura. Para se confirma, tal núcleo é composto pelo rival do alojamento, o Cowboy, o Garanhão (que adora ficar nu, não me pergunte por que) e o comandante interpretado por um Vince Vaughn completamente deslocado.
De todo o irregular elenco Hugo Weaving se torna não somente o melhor, como o único a ter um arco dramático identificável sem que a narrativa o sabote tanto. O ator com sua costumeira competência, intensidade e gestos entrega um homem atormentado pelo vício e pelo comportamento violento que tenta todo custo se redimir, cuja dor e medo são potencializados pelo filho na guerra com um ideal que ele mesmo sabe que não levará a nada. Como podemos comprovar na cena do jantar em que o filho informa seu desejo de ir para guerra, e o ator soluçando e com dificuldade de falar consternado com a situação que se apresenta.
A direção de Gibson (que nunca prezou pela delicadeza) aposta constantemente para planos mais fechados, mas que admito não prejudicou tanto a mise-en-scene das cenas. Tanto que o público consegue se ambientalizar nas sequências em que os soldados recuam e as movimentações ocorrem sempre da direita para esquerda (algo que poderia soar banal, mas tem muitos filmes que não seguem esta lógica). Nas cenas da batalha em si, o diretor, como de costume, não poupa no sangue e na violência visceral para atrair o desejo mais gore do espectador. Portanto, nos embates da guerra, não faltarão membros dilacerados e vísceras expostas. Elogios para determinados momentos da trilha sonora que engrandece o início da batalha e claro toda a edição de som que não deixa o público sair daquela atmosfera de guerra. Assim como o esquema de cores da fotografia de mostra correta quando é iniciada pelos tons amarelados e claros emulando o cenário campestre, passando pelo mais claro das cenas do hospital, para aos poucos se tornando mais cinza e esfumaçada, como podemos comprovar em toda a batalha no terceiro ato. 
Entretanto, em alguns momentos a necessidade de criar cenas visualmente mais plásticas acaba criando um clima de desconforto até mesmo risível pela falta de sensibilidade da direção, como podemos comprovar numa determinada cena em que Spider “Desmond” Aranha se livra de granadas jogadas em sua direção ou na cena que ele se banha para se livrar do sangue da batalhas. Infelizmente os problemas narrativos não se limitam somente a isso, pois alguns maniqueísmo e clichês não são muitos naturais, como na sequência em que se passa no tribunal que lembra um casamento de novela em que o alguém no último minuto chega para mudar o destino dos envolvidos – de maneira previsível, diga-se de passagem.
Levando sua ideologia até o ultimo frame, o filme nos leva a crer que Desmond praticamente acredita ser o messias (a ponto de criar, numa determinada cena, uma metáfora dele fazendo um cego enxergar) e em conjunto com a bandeira americana, levará o medo e justiça aos malvados inimigos japoneses através do “Fogo Divino” – como se na guerra existisse um país mais certo que outro e queimar soldados fossem uma prova incontestável de sincretismo religioso. Tanto que os tais “vilões” japoneses raramente têm rostos realçados nas batalhas – tirando a personalidade dos soldados – algo que o filme tenta consertar no seu final, mas acaba realçando ainda mais o contexto americano pela resoluções apresentadas.
Enfim, Até O Último Homem é suficientemente capaz de entregar uma obra sem grandes consequências (e um heroico e pouco conhecido fato histórico), e até mesmo um drama eficiente em sua totalidade.
Basta ter fé.
Cotação 2/5
Rodrigo Rodrigues
Latest posts by Rodrigo Rodrigues (see all)
- Crítica: A Voz de Hind Rajab - 08/02/2026
- Crítica: Hamnet: A Vida Antes de Hamlet - 23/01/2026
- Crítica: Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria (If I Had Legs I’d Kick You) - 05/01/2026
- Crítica: O Agente Secreto - 13/11/2025
- Crítica: Frankenstein - 02/11/2025

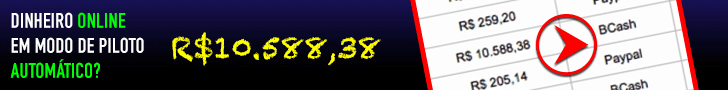







bom filme eu gostei mas tem hora que da raiva do protagonista mesmo
melhor que o Soldado Ryan?
Metzelder
Bem vindo.
Não. Mesmo com toda boa vontade!
Abraço.