Crítica: Mãe! (Mother!)

Direção: Darren Aronofsky
Elenco: Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris, Michelle Pfeiffer, Jovan Adepo, Brian Gleeson, Domhnall Gleeson, Stanley B. Herman e Kristen Wiig
Nota 5/5
*O texto pode conter Spoilers!
Servindo como um colchão espinhoso para diversas alegorias, Mãe! não é apenas um filme de terror (e suas consequentes doses sobrenaturais), mas também um importante exercício para fugirmos do óbvio dentro de uma narrativa cinematográfica. Portanto, me “alegra” (ratifico as aspas) que o desconforto causando pela obra nos projete para fora da sala com uma sensação que passe longe ao axiomático e que o dilema entre forma e conteúdo possam caminhar juntos para engrandecer as suas metáforas de obra inspirada no clássico O Bebê de Rosemary de Polanski, com doses do excelente Filhos da Esperança de Alfonso Cuarón – assim como reforça a ideia controladora e opressora que a religião traz como visto no filme anterior do próprio Aronofsky, Noé.
Claro que complexidade do roteiro do próprio diretor abre margens para diversas interpretações (e esta é uma das maiores virtudes do longa, e que engrandece a arte em si), e jamais ficamos a margem dos conceitos que o filme aborda: religião, santidade, maternidade, o feminino, busca pelo sucesso a qualquer custo e, obviamente, o fanatismo em vários níveis. Não são conceitos difíceis de serem identificados dentro de uma narrativa, e é, portanto, elogiável que a direção consiga inserir tais elementos sem soar pedante ou uma obra cuja pretensão pudesse soar como um defeito. Pelo contrário!
Vivendo numa casa isolada, o casal formado por Mãe (Lawrence) e Ele (Barden) buscam um pouco de conforto enquanto “Ele” busca inspiração para seu novo livro/poema durante um período de bloqueio criativo. Entretanto, depois da visita inesperada do Homem (Harris) e sua Mulher (Pfeiffer), o casal começa a entrar em conflitos e crises comportamentais. Bem, pelo parágrafo já deu para suspeitar que o simbolismo que o filme carrega, uma vez que as dinâmicas dos personagens iniciais são claramente uma alusão ao conceito religioso devido à ausência dos nomes nos personagens. E principalmente porque a casa é tratada como um paraíso pela “mãe”, e consequentemente o roteiro reforça o conceito através da resolução entre os filhos dos personagens de Harris e Pfeiffer como uma clara personificação dramática entre Caim e Abel – o que nos leva a concluir que os veteranos atores representam Adão e Eva. E assim como no filme de Polanski, a questão do marido com seu pacto é inicialmente mais velado e sendo exposto através dos fatos relacionados a esposa e por ele ser visto pelo seus fãs (leia-se seguidores) como um poeta (leia-se profeta) cujas palavras não são apenas poemas, e sim escrituras.

Aliás, por a religião ser um dos segmentos da sociedade em que a figura da mulher é mais reprimida, não é por acaso que a obra insira elementos da inibição da sexualidade da mulher, como visto na cena em que a protagonista é questionada pela Mulher/Pfeiffer por suas vestimentas que expõe seu corpo. Aliás, Michelle Pfeiffer surge sempre enigmaticamente jocosa e dominadora, tentando influenciar na rotina de Lawrence e o fato da jovem precisar procriar a espécie, algo que a sociedade faz diariamente, cobrando da mulher a imagem da família perfeita. Para isso Jennifer Lawrence novamente se entrega a um papel que poderia ser feito por uma atriz com mais idade, entretanto em nenhum momento ela deixa de conferir autenticidade à sua personagem com o desespero da voz rouca como se estivesse presa num local que ninguém a ouvisse – como boa parte da sociedade faz com o sexo feminino. Uma mulher devota ao marido, a usando como “musa inspiradora” em que a sua imagem é tida como uma frágil divindade (algo que podemos ratificar até mesmo na imagem do cartaz que se assemelha a mesma lógica do Cisne Negro com Natalie Portman, com sua face se despedaçando).
Mas claro que toda a questão feminina é mais complexa que simplesmente servir de inspiração artística para ele. Portanto, Javier Bardem transforma seu personagem num homem claramente inconsequentemente egoísta e negligente com a esposa ao negá-la atenção (mesmo parecendo involuntário) e que se entrega gratuitamente ao poder que a fama traz. Inclusive, a direção ratifica o contexto através do fato da lavanderia da casa estar localizada junto a uma fornalha no sótão (fazendo aqui até uma, para mim, óbvia alusão ao inferno), e tornando uma crítica para diversos símbolos sobre o opressivo universo feminino, enquanto o escritório dele é elevado aos céus por estar posicionado num plano superior da casa – aliás, não é por acaso que ela surja várias vezes em cena preocupada com a limpeza do local (tarefa destina a ela). Ademais, a casa que a personagem “ergueu do nada” é vista como uma prisão, uma vez que a mãe jamais consegue sair do local como se fosse um sepulcro eterno para a protagonista; um local a esmo cuja beleza isolada das cercanias emula o nada ao redor, como se a casa fosse o ponto de partida (onde o conceito “paraíso” surge novamente como metáfora) para um novo mundo e era.
Assim, a narrativa aposta em planos típicos do suspense, com cenas de alguém a observar ou um personagem se virando em que esperamos que suja algo ou alguém. Todavia, servindo para acrescentar algo à narrativa, sem necessariamente a torná-la dependente destes elementos, pois a discussão aqui é outra. Até porque, Darren Aronofsky investe constantemente em planos fechados com a câmera sempre indicando o ponto de vista da protagonista quando posicionada atrás da personagem, e principalmente girando ao redor dela indicando o estado de perturbação que a atravessa durante toda a projeção.
Construindo com fluidez os elementos temáticos durante seus atos- até porque é notório que temos uma sobreposição temporal dos fatos como uma espécie de flashback – Aronofsky envolve o espectador naquela atmosfera de completo desconforto de adoração, terror e agonia sem abandonar o contexto visto no inicio do filme; como podemos ver nas cenas em que a pessoas entram e saem da casa como se fosse um templo. Portanto, é emblemática toda a sequência no terceiro ato que percorremos os cômodos da casa servindo como palco das concepções históricas da humanidade, seus conflitos religiosos e guerras, assim como é emblemático também que os detalhes destas representações sejam feitas também de maneira delicada, como o fato do apito da campainha a cada chegada de convidados, logo após um momento breve momento de tranquilidade que a protagonista teve. Ademais, é admirável que o design do filme represente uma espécie de purgatório ou inferno com pessoas presas pelas ferragens da casa em demolição, um local permeado de profetas e seus séquito se autointitulando como representantes divinos em nome de um homem, cujo filho esta preste a nascer – e que esta criança se tornará um Messias e vítima do fanatismo. E neste cenário, é brilhante como a direção de Aronofsky trate com inteligência o contexto sem jamais deixar de abraçar o “terror” como gênero em si, mas não somente o que estaríamos acostumados a ver (pois tem), e sim também por aquela sensação de impotência da mãe (ou de uma mãe) estar num local permeado de estranhos. “Visitas” que a tratam com insignificância ao responderem com ironia “Sua casa?”, como se ela não pertencesse mais aquele lugar ou deixasse de ter o controle sobre, onde a figura do marido se torna mais ameaçadora por ser inutilmente a única barreira com as ameaças que a cerca – entretanto, ao mesmo tempo com um comportamento velado na fascinação pela idolatria que acabou levando igualmente ao desespero como preço da fama.
Fechando e iniciando um novo ciclo, o clímax apenas ratifica a ideia punitiva que a mãe/mulher tem diante da sociedade baseado na idolatria religiosa como uma bruxa na inquisição, ao mesmo tempo em que o homem tem uma “nova chance” diante da tragédia que ele usará com inspiração para seus futuros trabalhos. Mãe! como obra de arte não é uma obra tão complexa em sua assimilação como alardeiam, entretanto isso não significa um exercício lúdico para entender suas camadas e representatividades.

Rodrigo Rodrigues
Latest posts by Rodrigo Rodrigues (see all)
- Crítica: Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria (If I Had Legs I’d Kick You) - 05/01/2026
- Crítica: O Agente Secreto - 13/11/2025
- Crítica: Frankenstein - 02/11/2025
- Crítica: O Último Azul - 11/09/2025
- Crítica: A Hora do Mal (Weapons) - 17/08/2025

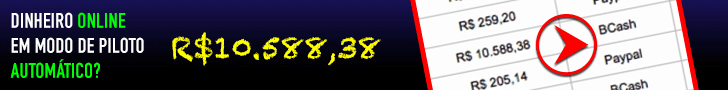





Salamandra
Bem vindo
Bem, esta é a função (uma delas) da critica cinematográfica: apresentar uma analise sobre a simbologia do filme em si quando se faz presente. E no caso de “Mother”, tal elemento é farto (tão farto que chega ser a estrutura semântica do filme).
Obviamente, você não é obrigado a aceitar ou gostar . Entretanto, não reconhecer que meus argumentos tem fundamentos (baseado em exemplos do filme e da linguagem cinematográfica) é outra história.
Abraços e obrigado pelo comentário.
é muita teoria analitica de simbologia pra um filme, pro meu gosto