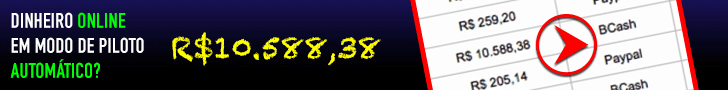Crítica: Hereditário (Hereditary)

Direção: Ari Aster
Roteiro: Ari Aster
Elenco: Toni Collette, Milly Shapiro, Gabriel Byrne, Alex Wolff e Ann Dowd
Duração: 127 minutos
Nota 3/5
É elogiável que uma obra de terror atual faça o público entender que nem sempre apostar em sustos e em uma narrativa expositiva seja necessariamente o correto; e sim que elementos mais mundanos sejam vistos como algo fundamental e como base para – quando o terror em si acontecer (se acontecer) – nos inserir no contexto de tensão de maneira orgânica. Assim, inspirado em clássicos como O Iluminado e principalmente O Bebê de Rosemary, este Hereditário – do diretor estreante em longas Ari Aster – repete a fórmula de sucesso em obras recentes como os ótimos A Bruxa e Corrente do Mal ao apostar em um cenário de conflitos para criar um clima perturbador, sem necessariamente tornar a obra vazia de conceitos e temas ao serviço simplesmente do sobrenatural, mas sim um longa que permite enxergar camadas de temas e discussões que vão além do tema principal. Todavia, isso não significa que o filme em questão não apresente certo desequilíbrio dentro de sua proposta, principalmente durante seu terço final quando parece mostrar certa insegurança sobre o material apresentado até aquele momento. E dependendo do espectador, isso pode ser crucial para a apreciação da obra! E não posso dizer que tais momentos não me influenciaram…
Iniciado com uma lápide sobre o falecimento da matriarca da família Leigh, a narrativa já se apresenta inquieta ao ser usada de maneira eficiente durante toda a obra, principalmente nos movimentos elegantes da câmera com seus zooms; assim como a inventividade ao pôr, por exemplo, o espectador naquele clima através de um plano quase subjuntivo, como visto em uma sequência de um enterro onde “acompanhamos” a descida de um caixão! Ademais, é interessante que ao inserir miniaturas no filme como sendo o ofício de Annie (Collette), a direção faça uma referência ao clássico O Iluminado de Kubrick, mas ainda servindo como uma alegoria para o estado psicológico de subjugação/controle – ou falte dele – e até mesmo opressão de Annie, como uma fuga (inútil) para suas tragédias familiares do passado.
Até porque, a fotografia de Pawel Pogorzelski e a direção de Aster repetem quase os mesmo planos vistos nas miniaturas; inclusive, confirmamos o tal cuidado da direção com sua narrativa através de elipses entre Annie e o filho Peter que realçam a dinâmica e conflito de culpa entre eles; algo fundamental para a dinâmica do filme devido ao tom de ressentimento e dor que vai sendo inserido diante de uma nova tragédia que ocorre no decorrer da história. Sendo sintomático que a direção, em conjunto com a trilha sonora sempre bem colocada, use bem o silêncio de maneira funcional para dimensionar o estado de um personagem, como podemos comprovar na cena em que Peter fica longos segundos parado no carro, engrandecendo o fato ocorrido anteriormente.
Durante seus dois primeiro atos, é elogiável que a direção de Aster seja econômica (famoso caso onde o “menos é mais”) ao jamais apelar de maneira expositiva (com sustos em profusão), e sim, como dito anteriormente, insistir na temática e medos da família como mote principal e no poder de sugestão em si; como, por exemplo, alguém sorrindo sinistramente para Charlie no enterro da avó; um vulto surgindo em segundo plano; uma trilha inserida sem exatamente antecipar algo; os próprios dramas de Annie, etc. Assim, estes tais elementos são o que tornam a abordagem de Hereditário atrativa, pois estes princípios e traumas são suficientemente capazes de criarem uma atmosfera incômoda e desconfortável. Ademais, vendo que jamais conseguiu superar seus sofrimentos psicológicos e emocionais, a obra oferece aspectos para a análise sobre as ações de Annie e seu relacionamento conturbado com o fantasma (com trocadilho) da mãe falecida; o peso da maternidade de uma filha com deficiência; o embate com o filho adolescente em transformação; sua culpa; a luta do feminino ao mesmo tempo em que tenta manter um lar normal, etc. Para isso são mais que merecidos os elogios para a atriz Tony Collette que novamente encarna uma figura mediante o peso materno com tons sobrenaturais, ou não (vide O Sexto Sentido e Pequena Miss Sunshine), onde sentimos nas palavras “Eu quero morrer”, todo o poder invocativo da sua dor devido às perdas.
Conflitos e dores estas que o roteiro tenta mostrar também através dos pontos de vista de todos os envolvidos; mas se com Charlie conseguimos criar uma identificação através do olhar doce e frágil da jovem atriz Milly Shapiro e sua maneira particular de ver o mundo, o mesmo não podemos dizer com relação ao seu irmão Peter, vivido por um fraco Alex Wolff (fora que a própria presença de Gabriel Byrne, antes surgindo com certa dubiedade, finaliza seu arco como um personagem desinteressante e até sem muita empatia). Portanto, é a partir deste ponto (foco em Peter) que, para mim, o filme começa a perder tudo aquilo que construiu durante seus dois primeiros atos, ao mudar seu foco e apostar naquilo que negou durante boa parte (ou pelo menos tentou).
Claro que toda a culpa não pode recair sobre os ombros do personagem sozinho, uma vez que a direção resolve apressar sua narrativa e inserir os elementos de terror de maneira mais explícita. Não que isso seja o problema em si, pelo contrário, o filme ainda se mostra eficiente nos sustos e em manter o clima de desconforto; todavia, ao embaralhar seus conceitos como possessão e espiritismo, a direção parece perder um pouco a mão da história criada, indo de maneira nada sutil do terror propriamente dito às situações que causam mais um humor involuntário (e isso posso afirmar com certeza pelos risos que determinadas cenas causaram na sessão que me encontrava), ao ponto de tornar seu terceiro ato em algo arrastado e cansativo por parecer “enrolar” até seu clímax. Tanto que em determinado momento, o próprio filme tenta jogar com tal dicotomia, mas o resultado não é o esperado; e se é o esperado, não foi uma decisão correta, como numa sequência em que a câmera faz uma brincadeira com um movimento durante uma sessão espírita.
Contudo, voltando ao personagem Peter, é dele que não conseguimos criar algum tipo de identificação quando o foco do filme muda para o próprio. O que por si, neste caso especificamente, é algo problemático na estrutura do filme, uma vez que dedicamos parte do filme a nos preocupar com o arco de Charlie para este ser descartado, perdendo a oportunidade de explorar as sub-camadas de sua personagem com relação a resolução do filme. E no seu clímax, Hereditário, tentando recuperar a atenção do público, aposta exclusivamente no aspecto sobrenatural e no terror (elogiável, diga-se de passagem), e assim o filme não assume uma direção convencional ou com alguma recompensa para os envolvidos – o que engrandece a atmosfera de pavor e medo, onde é visível a sua inspiração em Atividade Paranormal, mas, ao contrário do falso documentário, Hereditário veio primeiramente discutir algo dentro de um cenário de terror, e não o contrário.
Com a sensação que, dentro de seu terror funcional e todos os merecidos elogios à sua preocupação narrativa (e não óbvia), Hereditário ainda soe um pouco desconjuntado em seu resultado após a sessão.
Rodrigo Rodrigues
Latest posts by Rodrigo Rodrigues (see all)
- Crítica: A Voz de Hind Rajab - 08/02/2026
- Crítica: Hamnet: A Vida Antes de Hamlet - 23/01/2026
- Crítica: Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria (If I Had Legs I’d Kick You) - 05/01/2026
- Crítica: O Agente Secreto - 13/11/2025
- Crítica: Frankenstein - 02/11/2025