Crítica: Assassinos da Lua das Flores

Diretor: Martin Scorsese
Elenco: Lily Gladston , Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, Janae Collins, Jillian Dion, William Belleau, Scott Shepherd, Jesse Plemons, Jason Isbell, Tatanka Means, Tommy Schultz, Yancey Red Corn, Pat Healy, Steve Witting, Steve Routman, John Lithgow e Ty Mitchell, Charlie Musselwhite, Sturgill Simpson e Brendan Fraser.
Assassinos da Lua das Flores é uma obra prima – mais uma – de Scorsese, para a surpresa de sites “especialistas” em cinema.
Aos 80 anos, o cineasta realiza não somente um filme que soa como uma aula sobre cinema durante suas 3 horas e 26 minutos de duração, mas também um épico histórico sobre fatos omitidos dos livros; até porque a história, como de praxe, normalmente é escrita pelos opressores.
Assim como o massacre de civis ocorrido na cidade de Tulsa (Estado de Oklahoma) em 1921, conhecida como “Wall Street Negra” devido à pujança da comunidade oriunda do petróleo, Assassinos da Lua das Flores retrata condições parecidas. Nesse caso, sai a população negra e entram os nativos da nação Osange, cujo povo enriqueceu também através da descoberta de petróleo em suas terras, despertando assim, como de hábito, a cobiça dos brancos subjugados economicamente que, para se apoderarem “legalmente” do patrimônio indígena, muitos acabavam casando com nativas para herdarem suas respectivas fortunas, até mesmo no lugar da família.
Mas também existia uma maneira mais rápida, além somente do matrimonio: assassinatos devidamente normalizados pelas autoridades, cujo interesse somente se dá pelas fortunas envolvidas através de pagamentos volumosos para fingir a preocupação do governo. E nesse momento, o filme abre outra reflexão de como a sociedade hoje poderia ser outra se essas minorias oprimidas perpetuassem suas condições aos seus descendentes em todas as áreas.
Dito isso, e como descendente de italianos, Scorsese demonstra respeito gigantesco ao abordar tais acontecimentos em uma obra com estilo comum ao diretor. Dirigido com uma vitalidade e técnica que seriam redundantes comentar (mas, obviamente o farei), Scorsese faz um estudo de amor e tragédia de uma minoria maltratada durante séculos. E se, por exemplo, em Gangues de Nova Iorque tais elementos históricos se tornaram um problema a mais da produção caótica ao misturar tangencialmente os aspectos pessoais dos personagens (apesar de eu gostar do filme como ficou), aqui, Scorsese controla fluidamente os relacionamentos de maneira coesa em prol do contexto do filme. Sem deixar, claro, de criar uma tensão pela violência a que os nativos estão sempre submetidos.
 Baseado na novela de David Grann (roteirizado também por Eric Roth e o próprio Scorsese) a história ocorre a partir da década de 20, e vamos conhecendo as entranhas daquele cenário quando Ernest Burkhart (DiCaprio) é atraído ao local convidado pelo tio – e influente – William “King” Hale (De Niro). Convencido de que a atração que Ernest sente pela nativa Mollie (Gladstone) pode render uma grande riqueza através do casamento entre os dois, o roteiro se desenrola em situações de traição e conflitos dos verdadeiros criminosos.
Baseado na novela de David Grann (roteirizado também por Eric Roth e o próprio Scorsese) a história ocorre a partir da década de 20, e vamos conhecendo as entranhas daquele cenário quando Ernest Burkhart (DiCaprio) é atraído ao local convidado pelo tio – e influente – William “King” Hale (De Niro). Convencido de que a atração que Ernest sente pela nativa Mollie (Gladstone) pode render uma grande riqueza através do casamento entre os dois, o roteiro se desenrola em situações de traição e conflitos dos verdadeiros criminosos.
Tanto que um dos aspectos mais intrigantes e cruéis (claro sem comparar com os próprios assassinatos) é a hipocrisia de o racismo ser tão grande ao ponto de acharem que os brancos são os únicos capazes (como escolhidos por Deus em vez do acaso indígena) de lidarem com as riquezas para apontarem os defeitos dos nativos em não suportar tal imposição do dinheiro; lembrando que o uso do dinheiro ainda estava condicionado à permissão de uma espécie de banco (curador branco) para liberar o dinheiro para despesas básicas do dia a dia.
Mas falando especificamente dos relacionamentos, eles são inquestionáveis do ponto de vista de suas composições. Focando em apresentar seu personagem com alguém determinado, mas com uma limitação intelectual suficiente para servir com peão para os atos de King, DiCaprio traz uma expressão fechada reforçada (para demonstrar certo entendimento dos fatos que não tem).
Incapaz de criar uma empatia pela própria família planejar a morte deles, DiCaprio imprime a Ernest um forte sotaque, por oras com leves gaguejos, que não disfarçam as tais limitações aprofundadas pela insegurança da falta de entendimento (um elemento fundamental que quem optar pela sessão dublada irá merecidamente perder, me deixando perplexo que possam existir sessões dubladas para esse filme). Limitações essas devidamente aproveitadas pela malícia do maquiavélico e carismático King, onde De Niro é um típico “cidadão de bem”, influente e usando sua aparente boa idoneidade dentro da comunidade para angariar mais poder. Amado pela comunidade ao ponto de que sugerir sua prisão seja visto como um ato desconcertante para autoridades, King é visto como benfeitor pelos Osange, mesmo que essa característica seja mais auto-infligida que algo comprovado.
Mas é Mollie o fio condutor da narrativa e através do publico sentimos o arco dramático do povo Osange. Escalonando sua suas dores tanto mentais quanto as físicas devido ao seu tratamento quando da diabetes, Mollie é a exemplificação guerreira do povo nativo; principalmente ao ter de buscar forças ao ver sua família e povo morrer assassinada por pessoas próximas. Méritos totais para Lily Gladstone. A atriz – de descendência indígena – transmite segurança em sua postura, mas ao mesmo tempo certa inocência por ceder às investidas de Ernest, mesmo ciente dos objetivos financeiros dele. Um olhar misterioso e sorrisos discretos (como uma Monalisa) que agregam melancolia à sua figura doce e serena.
Trazendo elementos característicos narrativos do diretor, os planos plongée como uma visão divina, Scorsese é inquieto ao mexer com a tradicional culpa da fé católica, mas agora como travestida de elementos divinos indígenas – no caso politeísta – sem desrespeitá-la através dos elementos da natureza. Mas Scorsese é inteligente também, ao usar o espectador no ponto de vista de Ernest por ele saber antecipadamente das conclusões das decisões tomadas por Hale com relação à família de Mollie; um recurso que consequentemente aumenta nossa empatia por ela, principalmente por estarmos ciente do modus operandi do marido e ela não.
Consequentemente a direção de fotografia a cargo de Rodrigo Prieto (O Lobo de Wall Street) é igualmente eficaz ao trazer elementos que aprofundam a dinâmica dos personagens durante o longa. Como inicialmente apresentar Ernest e King com elementos de fogo e posteriormente com chuva ao fundo, indicando o temperamento destrutivo que virá a seguir; ou focá-los em determinado momento acuados no canto da tela antecipando que, apesar de toda a destruição causada, terminarão lado a lado. Isso sem contar uma sequência específica – e definitiva para os personagens – ao trazer King e Ernest num local remetendo a um tabuleiro de xadrez denunciando quais as peças eles representam – algo claro de quem é o peão é o Rei.
Tudo isso não apaga também a presença segura, por exemplo, de Jesse Plemons interpretando o agente Tom White, responsável pela investigação dos assassinatos; ao contrapeso de Scott Shepherd como irmão de Ernest, que exala uma perversidade silenciosa igualmente criminosa do irmão. Isso acaba remetendo a interpretação de que nem sempre os heróis vestem chapéu de cowboy, denunciando de maneira simbólica a responsabilidade do governo americano da época.
Mas é na evolução de Ernest e Mollie que vemos isso ainda mais evidente, no ótimo trabalho, por exemplo, de iluminação. Se os planos conjuntos do casal são iluminados progressivamente (com um palheta mais escura à medida que se afastam, a não ser sequência de casamento), Ernest vai aos poucos perdendo “sua luz” ao ponto que se envolve nos planos de King até ficar em total escuridão na parte final durante um interrogatório. Mollie jamais perde esse elemento; como visto numa sequência em que estão discutindo num pequeno quarto, denunciando a pressão daquele relacionamento através do plano mais fechado, cuja luz a vela de Ernest contrapõe a luz da lamparina de uma moribunda Mollie, acesa com toda intensidade.
Aliás, o trabalho de figurino exerce uma função primordial e igualmente elogiável com relação ao sentimento desse povo. Se o povo indígena adapta suas vestimentas ao povo branco, obviamente devido à questão social, é interessante o trabalho das cores e contraste com as cores neutras e escuras da população em geral; reparem como, apesar de serem vítimas de um plano de extermínio ou mesmo durante um funeral em que todos estão cientes do perigo que cada um corre ali, suas roupas, apesar de escuras como se fossem subjugadas pela atmosfera triste, ainda tentam manter certa cor.
Da mesma maneira como uma trilha ao fundo que é usada de base para jamais deixar o espectador acomodado muito tempo, é importante ressaltar (uma redundância) que a montagem de Thelma Schoonmaker é eficiente em transitar num conto histórico como se literalmente um narrador apresentasse o filme sem deixar tempo suficiente para voltarmos a aquele universo de exploração. Assim como as transições entre as cenas com razões de aspecto menor (em preto e branco) para a atual colorida com corte absurdamente fluido.
Martin Scorsese está ciente daqueles fatos e se assume como um contador de histórias de maneira relevante usando seu rosto e prestigio de décadas de experiência (ratificando que como descendente de ítalo- americano, ele possui humildade em se reconhecer apenas como um condutor) de uma história real e triste.
Sua homenagem à uma época importante da comunicação soa como uma crítica quando tais relatos tornam-se apenas instrumento para diversão cega que continua ignorando toda a violência a que submetem um povo, etnia ou nação que clamavam por justiça cujos inimigos não podem ser facilmente vistos; isso quando esses mesmos que deveriam ajudar acobertam os criminosos (quando não são os próprios!). O discurso real sobre os personagens abordados em Assassinos da Lua das Flores traz a frustração do diretor em dizer tais palavras quando percebemos que a historia se repete quando minorias ainda são massacradas.
Rodrigo Rodrigues
Latest posts by Rodrigo Rodrigues (see all)
- Crítica : Extermínio – A Evolução (28 Years later) - 23/06/2025
- Crítica: Missão: Impossível – O Acerto Final - 05/06/2025
- Crítica: A Batalha da Rua Maria Antônia - 25/04/2025
- Crítica: Pequenas Coisas como Estas - 14/03/2025
- Crítica: O Brutalista - 12/03/2025

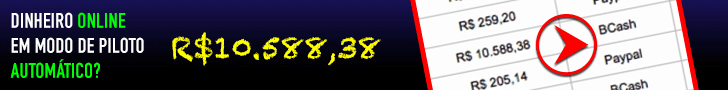





eu gostei mas achei bem parado cansa um pouco
é bom ver um filme nao de heroi bom pra variar um pouco e esse é um dos melhores do ano, melhor que Oppenheimer
Oppenheimer é melhor, vai ser o filme do ano, Oscar e tudo o mais
Oppenheimer nao é bom, so o hype e a pauta anti-lacrate por causa de Barbie é que fizeram ele ter boa bilheteria
Oppenheimer é muito bom sim, só não é tão bom a ponto de ser melhor do ano
this is cinema meus amigos
qd fui ver o filme entrei fazendo piada que eu tava “fazendo detox de filminho de super heroi” mas no fundo é isso mesmo, chega de super herois por favor hahaha
nao assisto mais nada desse cara que falou aquelas baboseiras da Marvel… nao que eu seja fã da Marvel ou algo assim, mas o cara achar que a arte cinematografica é apenas aquilo que ELE acha que vale é pretensão demais pro meu gosto… querer dizer pro mundo todo o que devem consumir ou nao, o que é cinema ou nao, o que vale como cinemascope ou nao, é soberba demais, peguei nojo do cara, apesar de achar ele um grande cineasta
penso como vc
mais um belo filme do mestre… mas é pra quem gosta: se vc quer tiroteio e perseguição, nem veja