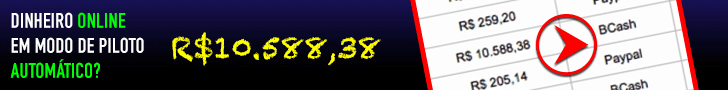Crítica: Zona de Interesse

Direção: Jonathan Glazer
Elenco: Christian Friedel, Sandra Hüller, Johann Karthaus, Luis Noah Witte, Nele Ahrensmeier, Lilli Falk, Anastazja Drobniak e Max Beck.
Aviso de possíveis spoilers.
O ódio e a intolerância são tão normalizados por seus praticantes que acabam criando um status quo tão absurdo que é somente compatível com os absurdos ocasionados pelos sentimentos violentos e infelizmente tão comuns; trazendo obviamente a questão da banalização do mal de Hannah Arendt sobre o surgimento do regime totalitário nazista.
Uma discussão inclusive para que suas metáforas não resumam somente aquele período, mas deixem uma herança e analogias para a atualidade.
Já iniciando de maneira sensorial através de um clima de incômodo pelos zunidos e pelo desconhecido, como visto no excelente Sob a Pele (2013), Glazer aposta constantemente na sensação de contraste nas rotinas da família do comandante Rudolf Hoss (Friedel) e sua esposa Hedwig (Huller), e no entanto, essas rotinas têm contraste com o campo de concentração de Auschwitz aos fundos da casa.
O filme apresenta – principalmente através do controle formal dos elementos narrativos (por exemplo, montagem e som) – uma condição do oculto dos horrores, sem necessariamente explicitar suas atrocidades, através das rotinas da família de um comandante, mas não tornando menos perturbador pela nossa percepção do que ocorre atrás daquela casa.
Sentimos mais medo do que não vemos.
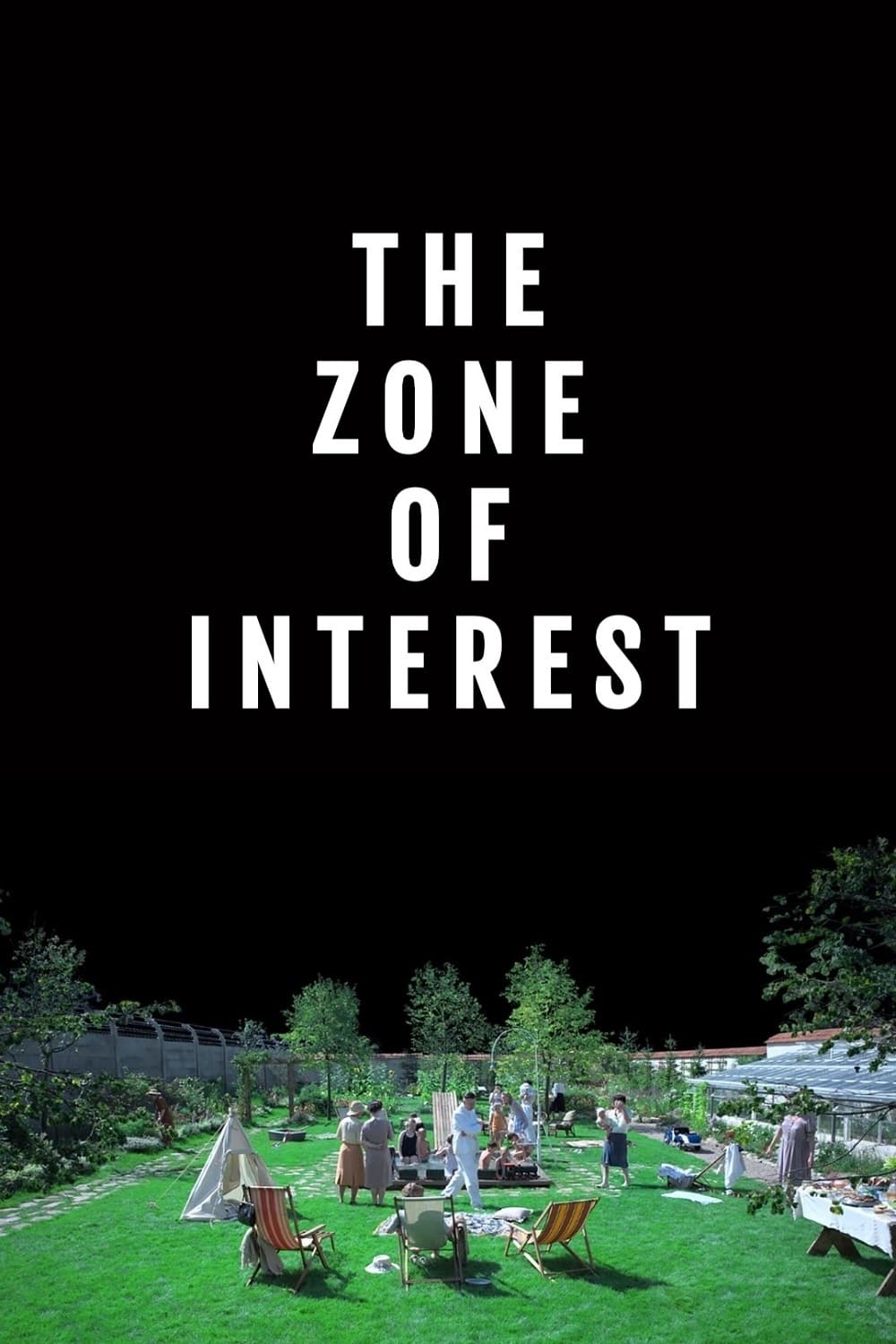 Antes de qualquer coisa, a abordagem de Glazer jamais romantiza o holocausto por usar uma família de um comandante nazista como protagonista dentro um ambiente caseiro. Claro, que temos abordagens bem diretas sobre o assunto e nesse momento até me recordo do O Filho de Saul que usou uma narrativa bem mais incomum (uma câmera praticamente subjetiva de dentro do campo de concentração e razão de aspecto fechada o tempo todo) para colocar o público dentro daquele horror, mas não é o caso aqui. Sendo assim, Zona de Interesse não demonstra qualquer gentileza na sua discussão do que acontece ao redor dos personagens; ao contrário, por exemplo, de Jo Jo Rabbit do diretor Taika Waititi que aborda o assunto com doses de complacência além do que o assunto merecia.
Antes de qualquer coisa, a abordagem de Glazer jamais romantiza o holocausto por usar uma família de um comandante nazista como protagonista dentro um ambiente caseiro. Claro, que temos abordagens bem diretas sobre o assunto e nesse momento até me recordo do O Filho de Saul que usou uma narrativa bem mais incomum (uma câmera praticamente subjetiva de dentro do campo de concentração e razão de aspecto fechada o tempo todo) para colocar o público dentro daquele horror, mas não é o caso aqui. Sendo assim, Zona de Interesse não demonstra qualquer gentileza na sua discussão do que acontece ao redor dos personagens; ao contrário, por exemplo, de Jo Jo Rabbit do diretor Taika Waititi que aborda o assunto com doses de complacência além do que o assunto merecia.
A fumaça negra emanando das chaminés ao fundo durante um simples chá da tarde permeia toda discussão ou tentativa de aparentarem normalidade, um contraste doentio por pessoas morrerem atrás dos muros enquanto discutem as melhores maneiras de “crescer” na carreira; ou seja: como matar mais seres humanos de maneira mais cruel e rápida possível através da criação de incineradores que resfriam mais rápido, como se estivessem discutindo um projeto de uma empresa comum enquanto as esposas dos comandantes conversam sobre viagens, perfumes ou como ameaçar as empregadas.
O que traz a presença de Sandra Huller depois do brilhantismo de Anatomia de uma Queda. Ela representaria nas devidas proporções a elite econômica que não hesita em ameaçar qualquer pessoa para manter seus privilégios sociais. Até porque, usando novamente um simbolismo ao trazer para os dias atuais, o que diferiria isso da elite com suas mansões (em muitos casos pertos de comunidades) que apoiam fascistas para colocar em prática o extermínio dessa mesma população? Além do mais, vale também discutir como essa percepção é difundida aos filhos. Se um deles demonstra claramente reflexos de maldades do trabalho do pai apenas brincando com seu irmão, temos parte que lida com tal tragédia como um conto de fadas da irmã; mesmo que esse ato de inocência e aparente empatia pela dor das vítimas possa custar ainda mais vidas nos arredores do campo.
Pontuando boa parte da projeção usando uma câmera quase estável para demonstrar a rigidez daquele cenário, a fotografia a cargo de Lukasz Zal mantém a família do comandante inicialmente em um plano diante da natureza para contrapor ao horror do campo de concentração, cuja lógica vai mantendo durante o filme, seja em pequenas reuniões a beira de uma pequena piscina ou durante reuniões do alto comando nazista e suas festas. Nesses casos, as lentes angulares e planos abertos representam toda atmosfera de liberdade e pujança que aquelas pessoas tinham para comemorar a decisão de matar inocentes sem qualquer remorso até a derrocada psicológica e histórica do comandante Hoss diante da escuridão que a história reserva para essa corja; mas ainda acredito que este tipo de “julgamento” é muito benevolente para alguém que deveria ser condenado rigorosamente pelo que fez.
Além do mais, é instigante a decisão da direção inserir pequenos detalhes soando fundamentais para compor aquele cenário, demonstrando toda crueldade mórbida e preconceito, como o fato de um banho cujo rio passa restos das cinzas dos judeus mortos ou estalos ao fundo durante o filme que inicialmente vão se confundindo com as batidas, por exemplo, dos passos dentro de casa, para posteriormente ir tomando outro significado: tiros de execução!
Contando também com uma edição precisa, incluindo um corte temporal de maneira belíssima libertando aquelas memórias para a geração atual, Glazer cria um cenário que o mais importante acontece fora e ao mesmo tempo daquele quadro e por mais essa composição possa soar menos agressiva, é justamente nesse conflitante jogo de contrastes que mora toda maldade que jamais deveríamos esquecer.
Mas a sociedade atual, assim como a família do comandante Hoss, parece mais preocupada em defender aqueles que negam ou são os responsáveis pelos corpos abatidos carregados diante dos seus olhos, como um processo de higienização.
Não basta acreditar que na década de 40 tais elementos são frutos específicos daquele contexto mundial. Esses horrores estão ainda mais presentes. Infelizmente não faltam abjetos para defender que esse tipo de gente continue matando.
Rodrigo Rodrigues
Latest posts by Rodrigo Rodrigues (see all)
- Crítica: A Voz de Hind Rajab - 08/02/2026
- Crítica: Hamnet: A Vida Antes de Hamlet - 23/01/2026
- Crítica: Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria (If I Had Legs I’d Kick You) - 05/01/2026
- Crítica: O Agente Secreto - 13/11/2025
- Crítica: Frankenstein - 02/11/2025