Crítica: Elvis

Elvis
Direção: Baz Luhrmann
Elenco: Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge, Helen Thomson, Richard Roxburgh, Kelvin Harrison Jr., David Wenham, Kodi Smit-McPhee, Luke Bracey, Dacre Montgomery e Yola
Trabalhar a figura de Elvis Presley dentro de uma cinebiografia é uma das tarefas mais ingratas que se possa ter.
Personificado no imaginário popular com a sua imagem já nos últimos momentos de vida, o cantor sempre foi usado narrativamente de maneira quase caricatural nos filmes. Seja, por exemplo, como o ótimo Elvis & Nixon (2016) – narrando o surreal e verídico encontro entre o artista e o ex-presidente americano -, assim como o irregular 300 Miles to Graceland (2001) em que Kurt Russel e Kevin Costner se fantasiam de Elvis para assaltar cassinos numa espécie de Cães de Aluguel alternativo.
Portanto, não vejo com maus olhos que Baz Luhrmann assuma a responsabilidade de contar a historia do Rei do Rock quase 10 anos após o último filme do diretor (versão mais atual de O Grande Gatsby, de 2013). Com seu estilo inconfundível dentro de paetês e brilhantes (no qual admiro pelo controle narrativo desse exagero), o diretor de Moulin Rouge, mesmo que por vezes se prenda às armadilhas de uma cinebiografia – vide os medíocres Bohemian Rhapsody e Judy – apresenta uma obra vibrante e sempre tentando trazer os dilemas e medos da mente do protagonista.
Se um dos maiores problemas do gênero é justamente a necessidade de contar uma vida inteira dentro de um longa metragem, ocasionando normalmente uma obra episódica, aqui, Luhrmann mantém uma boa fluidez durante os atos sem prejudicar a narrativa em seus longos 160 minutos de duração.
Trazendo a obra através do ponto de vista do “coronel” Tom Parker (Hanks) já no leito de morte, Elvis inicialmente traz a pergunta de quem ele era. Um pai para o artista ou apenas um manipulador ganancioso sobre Elvis (Butler)? O filme tenta trabalhar, inutilmente isso ao meu ver, pois mostra que ele era um canalha e o roteiro deixa isso bem claro; inclusive, Elvis nunca se apresentou fora dos Estados Unidos devido ao problema de cidadania de Parker (Holandês fugido do país, provavelmente devido a um crime passional). Colaborando para isso, Tom Hanks, através de maquiagem e enchimento, entrega um sotaque do sul dos Estados Unidos ao mesmo tempo em que aposta em expressões quase caricatas de alguém vilanesco, sem cair jamais no pastiche; oriundo do circo, o personagem ganha contornos fabulescos devido a esses elementos circenses.
Paralelamente, fã de quadrinhos de super-herói, o jovem Elvis permeia seus desejo de “imortalidade” e mostra os medos por uma criação rígida da mãe (um relacionamento de proteção e adoração extrema). Portanto, o tom de fábula é a tonalidade do filme durante sua primeira metade, mostrando o garoto até a formação como cantor, influenciado pela música negra americana.
Obviamente tudo não teria suporte não fosse a desempenho formidável de Austin Butler, imprimindo uma energia autêntica para o papel, o jovem ator demonstra vitalidade nas cenas musicais; inclusive é bem vinda a tomada de decisão de impor sempre uma voz mais grave do cantor quando mais velho (obviamente quem optar por uma sessão dublada (!) merecerá perder), que auxiliado com a narrativa característica de Baz Luhrmann, empolga o público.
Exemplos não faltam, seja na cena em que desafia a polícia local ao cantar “Trouble” e nos shows que faz em Las Vegas já no final da vida. Nesse ponto, o diretor explora todo o fascínio que Elvis causava, nos detalhes, principalmente nos segundos das respirações antes da explosão musical, confirmada na reação quase sexual das plateias.
O filme tenta funcionar não somente para convertidos, mas também para aqueles que pouco conhecem sobre o cantor falecido em 1977, tanto historicamente quanto sentimentalmente. Evitando perder tempo em seu prólogo, Luhrmann usa da tela dividida para imprimir rapidez em um breve resumo do cantor, ao mesmo tempo em que a montagem faz um excelente trabalho ao apresentar o jovem descobrindo o blues através da fresta de um casebre com um casal dançando sensualmente para, num corte fluido, voltar para o deserto dentro uma tenda com musica gospel; remetendo ao mesmo tempo um mistura do profano com o sagrado dentro garoto que o influenciará para sempre.
Aliás, é interessante a ideia do roteiro de pontuar as etapas do filme – assim como a evolução do protagonista -, através de eventos históricos, como os assassinatos de JFK, de Martin Luther King, Bob Kennedy ou Sharon Tate. Sendo assim, vamos entendendo as motivações políticas/pessoais que levam ao cantor a ter suas percepções sobre o mundo/carreira, como por exemplo, o recorte elegante em que visualizamos um decadente letreiro de Hollywood (simbolizando o fim da carreira de Elvis no cinema) para se transformar na palavra televisão como o novo palco; ou até mesmo na encenação de um dos filmes de Elvis que Baz Luhrmann faz uma rápida homenagem ao usar cores de technicolor para representar o momento tumultuado da vida do astro.
No entanto, como dito antes, a necessidade/obrigatoriedade de abraçar uma gama enorme de acontecimentos das cinebiografias acaba fazendo com que a direção tome decisões sobre o que deseja contar, não contar ou alterar levemente… Assim, a questão mais importante, para mim, seria de como Elvis se encaixa na questão racial que tanto o aflige.
Seria apropriação cultural de um homem branco fazer sucesso a partir da música de ritmos criados por músicos afro-americanos? Como o cantor é visto pelo segmento? Era certo que o cantor mantinha um respeito enorme pela música que o influenciou, mas a obra evita tais questionamentos e faz de tudo para não se comprometer (seria algo impossível de imaginar um filme que pudesse confrontar tais questionamentos devido ao mito criado). Tanto que o roteiro apresenta grandes nomes, como Little Richard, B. B. King e Rosetta Tharpe (para muitos a mulher que criou o Rock and Roll) como uma homenagem e simultaneamente jogando todas as respostas nas costas de Parker que, numa época de segregação, identifica uma mina de ouro em Elvis por ele ser branco.
Mesmo que no final o diretor se prenda a uma narrativa mais protocolar como dito anteriormente (como por exemplo, ao trazer os indefectíveis letreiros dizendo o que aconteceu com fulano, imagens de arquivos etc…), ainda assim o filme não chegar a quebrar a lógica mágica da primeira metade (aqui já não tão mágica devido aos momentos finais do cantor), mas ainda assim protocolar.
Enfim, Elvis não é uma obra simples, Baz Luhrmann não é um diretor discreto e nunca fez questão de ser. Sua abordagem tende sempre ao espetaculoso e cafona (no bom sentido), mas jamais pende para o ridículo.
Rodrigo Rodrigues
Latest posts by Rodrigo Rodrigues (see all)
- Crítica: A Voz de Hind Rajab - 08/02/2026
- Crítica: Hamnet: A Vida Antes de Hamlet - 23/01/2026
- Crítica: Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria (If I Had Legs I’d Kick You) - 05/01/2026
- Crítica: O Agente Secreto - 13/11/2025
- Crítica: Frankenstein - 02/11/2025

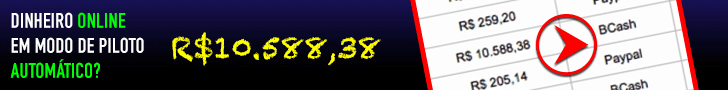





puxa vida eu curti muito esse filme recomendo a todos que gostam das musicas do Elvis
Filme bom/mediano. Nao esta a altura do #1 (Elvis)
Visceral, eletrizante, com entrega e paixão. Maravilhoso!
Nao da pra enquadrar a musica dele em apropriacao cultural pq eram americanos pretos que produziam as musicas nas quais ele se inspirou… se fossem africanos mesmo, ai sim da pra analisar o caso melhor (pq teria objetivo de lucro, etc…), mesmo o conceito de apropriacao cultural ser vago e ate questionavel. Ja o lance de saber como a comunidade negra e artistica ve o Elvis e o sucesso dele com um trabalho baseado no soul e no R&B negro, seria bacana de ver
Sou fã do Elvis e achei o filme emocionante… adorei!